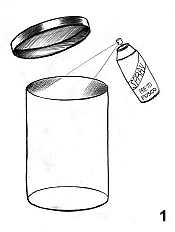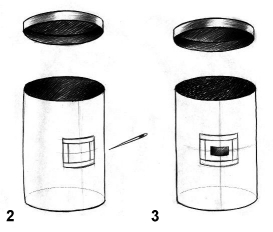Já não somos mais os mesmos desde o dia 11 de setembro de 2001. Nossa percepção estética, nossa visão de mundo, as bases da negatividade nietzschiana que nos habitavam ganharam novos aspectos desde o atentado ao World Trade Center.
Muita gente se levantou contra este fato, tocados pelos milhares de mortos. No entanto, não foram os mortos que alteraram nosso olhar. Mesmo porque não os vimos. O atentado do WTC foi o espetáculo trágico mais higiênico da história: nenhuma gota de sangue foi exposta. Apenas poeira. Apenas escombros. Frames. E a inauguração da estética do looping, adotada em todos os noticiários sensacionalistas desde então.
Godard dizia que o cinema jamais seria o mesmo depois de Auschwitz. Poderíamos repetir a fórmula e dizer: nossos olhos já não são mais os mesmos depois do 11 de setembro.
Cresci sob o clima da guerra fria. Ao longo da infância e da adolescência, assisti e por vezes participei de maniqueísmos falseadores. Super Homem contra Lex Lutor. He-man contra o Esqueleto. O bem contra o mal. Não era possível gostar de Beatles se você gostasse de Rolling Stones. Led Zeppelin ou Deep Purple. USA ou URSS.
O mundo mudou. A queda do muro de Berlim, o fim da União Soviética, as mudanças nas aparências políticas soavam amargas. Talvez ninguém mais se lembre, mas até o dia 10 de setembro de 2001, o mundo ainda olhava amedrontado para o fantasma do socialismo e a bomba atômica escondida por detrás dele (que poderia ser lançada por ele ou por seu arqui-inimigo, o fantasma do capitalismo). Ao amanhecer do dia seguinte, começava a tentativa de implantação de um novo maniqueísmo, um maniqueísmo que pretendia se tornar absoluto. O mais fácil de todos os maniqueísmos, posto que o inimigo era milenar: o islamismo. Saímos da guerra fria para a guerra morna, a guerra descafeinada.
Mas o que importa, a alteração ocorrida nas nossas relações humanas não dizem respeito ao acontecimento em si. O que há é que o atentado coroou um aprendizado que vínhamos desenvolvendo ao longo das últimas décadas do fin-de-siècle: a reconciliação dos aparentes opostos. Casamentos de céu e inferno. Novos reencontros de raças. Novas mestiçagens poéticas e inusitadas. Nomadismos transbordados da filosofia.
Já não nos é permitido olhar para as coisas de maneira generalizada, como tão bem aprendemos com as fórmulas da mídia. A comunidade-mundo se tornou pequena. Não apenas a internet nos deu a impressão de proximidade: há também uma melhoria e acessibilidade aos aeroportos. O fenômeno não é apenas brasileiro.
Desde o acontecimento, aprendemos que é urgente e necessário saber olhar através. Aprendemos que o sistema político que nos governa hoje já não é o capitalismo, mas o capital. Que o comunismo ficou insosso e, depois da revelação do que ocorria nos bastidores de suas ditaduras, nos parece hoje tão cruel quanto o nazismo. Que o mundo de aparências que os políticos produzem para os nossos olhos já não basta. Que a normalpatia já não nos salva.
Mas mais importante do que tudo isso: há dez anos que descobrimos que as palavras realmente importam. O WTC pode ter sido fruto de uma algaravia, resultado da incomunicabilidade humana. O WTC pode ter sido uma faceta da Babel que o Sonho Americano sucitava. Mas hoje, mais do que nunca, e mesmo para honrar os mortos do atentado (que não foram em menor quantidade que os negros linchados no Mississipi, que os mortos em Hiroshima e Nagazaki, que os índios extirpados do continente americano, que os antigos sábios da oceania, os opositores às ditaduras militares da América Latina nos anos 60, 70 e 80), devemos aprender o peso das palavras. Porque mais do que nunca, poetas, elas significam. Elas importam.